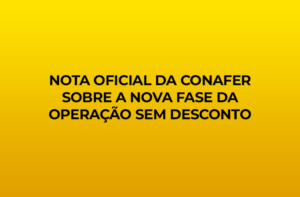FONTE: Marie Claire
131 anos depois da abolição da escravidão, mulheres quilombolas da Bahia ainda têm histórias de abuso, desemprego e disputa por terra
Já são quase 16h de um dia quente na comunidade quilombola de Quingoma, na Região Metropolitana de Salvador. Caminhões de empreiteiras passam apressados na estrada de barro que liga o território ao centro da cidade de Lauro de Freitas. A poeira dos carros, por vezes, atinge a recicladora Maria Silva, 59 anos, e sua família na porta dos barracos onde vivem.
Os motoristas não veem, mas aquelas pessoas estão ali. Aliás, sempre estiveram. É na via que elas esperam diariamente o caminhão do lixo da prefeitura para desembocar as panelas de casa.
Dona Maria, como gosta de ser chamada, é direta quando diz o porquê de sua presença ser ignorada pelos passantes da estrada. “E esse povo lá olha para nós? Nós é tipo invisível mesmo. O que eles querem é nossa terra, mas eu não saio daqui nem morta. Nem comendo essa poeira, eu não saio”, avisa.
A recicladora é um dos quatro mil moradores do bairro de Quingoma, território que foi certificado em 2013 como área remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares, instituição pública voltada para promoção e preservação dos valores e da influência negra na formação da sociedade brasileira. A terra, no entanto, ainda não foi demarcada pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).
É comum o imaginário popular associar quilombos a um fenômeno de resistência dos negros do passado, que teria acabado com o fim oficial da escravidão no país. Mas as comunidades remanescentes de quilombos existem até hoje em todos os estados brasileiros. Um levantamento da Fundação Cultural Palmares mapeou 3.524 dessas comunidades.
Na comunidade de Quingoma, que fica a 8 km da capital baiana, pessoas convivem diariamente com a violação de direitos básicos causados pela falta de postos de saúde, escolas e transporte público, além da disputa por terras. Por lá, segundo a Associação de Moradores de Quingoma, apenas 200 estudantes conseguiram completar o ensino médio. Nenhum desses, no entanto, faz parte da família de Dona Maria.
Da casa de branco para o quilombo
Na casa da recicladora, quatro dos seus cinco filhos herdaram sua profissão. As mulheres trabalham no lixão, que fica ao lado das casas onde moram. Nenhuma delas aprendeu a ler ou escrever. Toda a renda extra da família vem do programa Bolsa Família.
Os números mostram que, no Brasil, as mulheres negras estão presas ao desemprego e ao abandono. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado em outubro de 2018, a vulnerabilidade delas ao desemprego é 50% maior que a da população em geral. As mulheres negras são 54,6% da população brasileira e 79,9% da população da Bahia.
Elas também estão mais expostas a violência. O Atlas da Violência 2018 mostra que em 2016 a taxa de homicídios das mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras no Brasil.
“O que restou para mim e minhas filhas foi aprender a reciclar. Antes de trabalhar no lixão, eu trabalhava em casa de branco, em Ipitanga. Depois que conheci o pai dos meninos, vim pra cá e comecei a catar lixo. Não consegui outro emprego e fui ficando aqui. Criei todos os meus filhos com o lixão, que era maior antes da Prefeitura interditar”, conta Maria.
A recicladora tem uma relação de pertencimento com Quingoma, apesar de não ter nascido no território. Viúva há cinco anos, ela chegou na comunidade com o marido, quando tinha 16 anos e, hoje, diz que aprendeu a ser quilombola.
“Quando cheguei aqui só tinha casa de farinha e os rios limpos, sem a poluição dos prédios. Aquela época era melhor pra gente. Criei tanto apego aqui que hoje me considero quilombola. Minha pele já diz isso”, afirma.
Filha mais velha da recicladora, Ana Paula de Jesus, 36, repetiu os passos da mãe em muitos sentidos. Além de trabalhar no lixão, engravidou aos 13 anos, como Maria.
Hoje, Ana Paula tem nove filhos e quatro netos, todos são criados somente por ela. O dinheiro para sustentar a grande família vem dos R$ 418 do programa assistencial do governo federal e da reciclagem.
Apenas os quatro filhos pequenos estudam. Os outros cinco deixaram a escola para fazer bico ou catar materiais de valor no lixão.
“Eu nunca pensei em estudar porque nunca fui influenciada, e toda vez que saí daqui para ir para a escola ou procurar emprego, eu sofria preconceito porque era do quilombo. Aí não sei se posso cobrar que meus filhos estudem. Eles vão passar pela mesma coisa que eu passei. Eu já sei como é”, diz.
Resignada, Ana Paula lembra da situação de racismo que marcou uma das tentativas frustradas. “Outro dia cheguei no mercado para pedir emprego e chamei a gerente de tia. Sabe o que ela me disse? ‘Não sou sua tia, porque não tenho nenhum irmão preto’. A pessoa quando escuta isso já fica desanimada. Aí eu prefiro nem procurar mais. Acho que eles pensam que preto não é gente e nós estamos no século 21. Depois que aprendi a fazer artesanato, fico fazendo minhas coisas e esperando o caminhão da Prefeitura”, lamenta.
O sonho da casa de verdade
Foi no artesanato que Ana Paula encontrou a saída para fugir do crack. Aos 14 anos, ela ficou viciada na droga e por muito tempo teve recaídas. Há três anos, quando ficou internada em um centro de recuperação, aprendeu a fazer flores de pano. A atividade a ajudou a se reerguer.
“Pode parecer coisa pouca, mas ocupo minha cabeça e não penso mais em droga. Hoje minha única vontade é comprar uma casa de verdade para minha família”, diz.
A família da artesã vive em uma casa feita de tábuas encontradas no lixão. Todos os móveis na residência vieram do que foi descartado por outras pessoas. Do sofá ao escorredor.
“Foi tudo achado do lixo. Coisa boa, não é? Já achei até câmera no lixão. Eu quero ter uma casa de verdade um dia. Falo para os meus meninos, mas por enquanto é isso que a gente tem”, conta.
Na vida afetiva das mulheres do quilombo há também relatos de relacionamentos abusivos. A filha do meio de Maria, Tamires de Jesus, 28 anos, é mãe de quatro. Vítima de estupro pelo pai dos seus dois primeiros filhos, a recicladora acredita que todas as mulheres se sua família sofreram abusos por partes dos homens.
“O pai do meu primeiro menino me batia e me fazia ter relação com ele. Eles acham que são nosso donos. A maioria das mulheres aqui apanha. Eu apanhei muito por causa da droga do meu ex-marido”, conta ela.
Desacreditada, Tamires diz que o racismo nunca vai acabar. Para ela, não há sentido em comemorar o dia 13 de maio. “Nós nunca ficaremos livres, porque sempre vamos estar abaixo dos brancos. Eles passam por aqui, fingindo que a gente não existe. A verdade é que isso de não gostar de gente preta nunca vai acabar”, afirma
Mulheres à frente da luta do quilombo
As histórias das mulheres que criam filhos sozinhas se repetem em Quingoma. A cerca de 700 metros da casa de dona Maria mora Raquel Rodrigues, 64 anos. Nascida e criada na comunidade, a dona de casa aprendeu cedo o significado de ser negra, mãe solo e quilombola.
Mãe de quatro filhos, dona Raquel conseguiu sobreviver durante boa parte da vida da caça de animais e frutas que eram cultivadas no quilombo. Mas depois que condomínios foram construídos no entorno do quilombo, os rios secaram e as árvores foram cortadas.
“Quando isso aconteceu a gente teve que ir para casa do branco. Não teve jeito, porque eles tiraram nossa fonte de renda. Aqui, cada pessoa tinha sua família que cultivava e vendia seu próprio alimento”, conta a dona de casa.
Hoje, com os filhos criados, ela se considera um mulher forte por ter resistido e conseguido passar os ensinamentos de seus ancestrais para a família. “Nós, quilombolas, não devemos perder a nossa culinária, a nossa fé, a nossa dança. Consegui passar isso para meus meninos”, diz.
A que chegou na faculdade
A força de Raquel é hereditária. A prova disso é que sua filha, Rejane Rodrigues, é uma das duas mulheres que cursou faculdade na comunidade. A trajetória para terminar o curso não foi fácil. Por vezes, a pedagoga precisou andar mais de cinco quilômetros, de madrugada, para voltar para casa.
“Foi uma luta essa faculdade, porque aqui não tem transporte, né? Mas aí um dia eu invadi a Câmara de Vereadores da cidade e falei que queria meu ônibus pra estudar. Invadi. Dei uma de maluca lá dentro. Aí eles mandaram”, afirma Rejane, atualmente aluna especial do mestrado da Universidade Estadual da Bahia.
Rejane, com a filha e a mãe, luta pela demarcação das terras do quilombo
Além de estudar e trabalhar, Rejane dedica boa parte do seu tempo a luta para conseguir a demarcação de Quingoma. Há seis anos ela tenta demarcar o espaço com o Incra.
Para a socióloga Vilma Reis, mestre pela Universidade Federal da Bahia, que deixou esse mês o cargo de ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia, houve um pequeno avanço nas políticas públicas para atender as quilombolas, no entanto, ela acredita que o Brasil ainda precisa “fazer acontecer” no que diz respeito aos direitos da população negra.
“Não dá para ignorar as políticas de ações afirmativas dos últimos anos, mas ainda é pouco. É muito pouco diante de tudo e de todo o impacto da escravidão. O que o estado brasileiro devolveu para gente foi vergonhoso”, diz Vilma.
Ela lembra que a militância negra, assim como Tamires, recusa a celebração do 13 de Maio, efeméride da assinatura da Lei Áurea, como marco de liberdade para a população negra. Isso porque não foram criadas condições para a inserção digna dos ex-escravizados na sociedade.
Os novos capitães do mato
A falta de demarcação do Incra tem causado conflitos no quilombo. O impasse se agravou em 2016, quando a Concessionária Bahia Norte, empresa do grupo Odebrecht, começou a construir a Via Metropolitana, uma estrada que passou pelas áreas quilombolas e que, consequentemente, afetou os moradores do quilombo.
Desde o começo da construção, os quilombolas denunciam que áreas de reserva florestal foram destruídas e que árvores centenárias e sagradas para a ancestralidade quilombola foram derrubadas pela empresa.
Procurado, o Incra não respondeu às perguntas da reportagem até o momento.
“Os novos capitães do mato da [Concessionária] Bahia Norte chegam aqui oferecendo dinheiro para a gente sair da nossa terra. Eles andam armados por aqui, para cima e para baixo, mas não temos medo. Já fui ameaçada aqui, mas não vou deixar eles destruírem a nossa terra”, diz Rejane.
A reportagem entrou em contato com a concessionária, mas a empresa não respondeu.
A socióloga Vilma Reis afirma que as mulheres negras só serão abolidas da escravidão quando o medo deixar de existir. “ Lembrando [a cantora] Nina Simone: só estaremos livre quando não tivermos medo. Estamos em uma sociedade que nos impõe o medo. Estamos emparedados. A gente não tem liberdade, porque uma tarefa das mães negras desse país é reconhecer os corpos de seus filhos, quando elas conseguem reconhecer. A mulher negra nunca terá liberdade com os conflitos de terras nos quilombos. Sim, porque são as mulheres que vão para cima dos conflitos. Elas são mais corajosas para enfrentar”, diz.